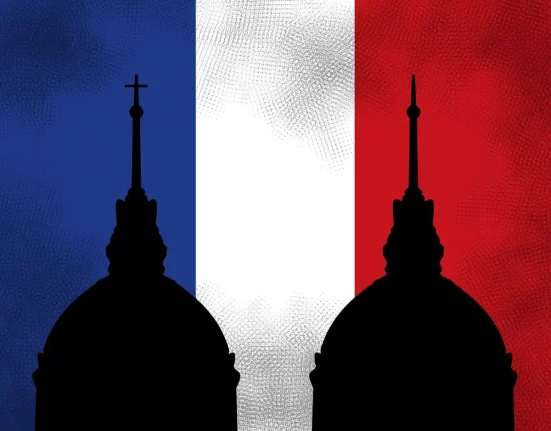Memórias insistentes de uma guerra sem fim.


Quase todo mundo se horrorizou com o massacre de civis em Israel. “Quase” porque algumas máscaras caíram: houve aplausos de setores da esquerda, igualando-se aos nazistas em 1938, quando festejaram o grande ataque antissemita na Alemanha e na Áustria – a tenebrosa “Noite dos Cristais”.
Cadeirantes foram executados com rajadas. Bebês, degolados. Mulheres, violadas e torturadas antes de morrer. Corpos nus dos jovens, assassinados no show, arrastados pelas ruas aos gritos enlouquecidos dos algozes. Quase duas centenas de reféns. Alguma dúvida de tratar-se de abominável terrorismo, ensaio de genocídio?
Para a ONU – engravatados que falam seis línguas e não resolvem nada em nenhuma –, o grupo invasor é somente um “partido político”. De fato, uma parcela mínima com o mesmo nome atua de modo convencional na Palestina. Porém a maioria armada e dominante do Hamas inclui 50 mil membros com claras intenções de extermínio de não islâmicos – judeus, budistas, hinduístas, cristãos – e de destruição de Israel.
Em 1986, estive no Oriente Médio, a trabalho. Nossa missão no Iraque, então em guerra com o Irã, era documentar obras da engenharia brasileira. Diante do risco de calote, a empresa nacional queria comprovar com imagens o que já tinha construído. Os militares iraquianos, que efetivamente comandavam o país, não gostaram de “estrangeiros fotografando e filmando obras estratégicas”.
Ganhamos acompanhantes armados, mal-humorados e proibições gerais. E sempre o medo. “Bombas não sabem onde caem”, diziam. Vimos caças cortando os céus dia e noite, tanques circulando sem parar. Sacos de areia empilhados defronte aos hotéis, viadutos e aeroportos; canhões e plataformas de mísseis por todo canto. Bloqueios frequentes, checagens insistentes e desconfiadas dos nossos passaportes e bagagens. E famílias em antigos Volkswagen Passat quatro portas made in Brazil carregando no teto caixões cobertos com bandeiras esfarrapadas, rumo à cidade natal do morto.
Na rodovia congestionada que leva a Bagdá, nosso motorista egípcio reclamou da lentidão e ligou o rádio para se distrair; música e chiadeira ininteligíveis. Aos poucos, um velho carro se emparelha com o nosso. No teto, mais um caixão de soldado. Reparo nas janelas, ali vai uma família: um casal idoso na frente e, no banco de trás, uma jovem mulher – a viúva, talvez – e duas crianças. Uma delas é uma menina de olhos grandes, negros e tristes; o rosto indiferente encostado no vidro coberto de poeira.
Parece já ter aceitado a violência e a morte como suas amigas de infância. De súbito, a menina me olha direto nos olhos, desafiante, melancólica – e me presenteia com um sorriso e um aceno. Ela, num veículo carregado de tristeza e incerteza. Eu, num Mercedes-Benz com ar-condicionado rumo ao aeroporto, em breve estarei longe do caos.
Como apagar aquele sorriso sofrido e inocente que durou poucos segundos? Esses mesmos olhos, esses mesmos rostinhos sujos e cabelos desgrenhados me perseguem até hoje, reencarnados; estou os vendo de novo. São olhos e rostos de crianças de Gaza e de Israel, olhos com lágrimas que deixam trilhas nas bochechas, olhares de dor e de pavor nos colos de pais desesperados, nas macas solitárias à espera de atendimento.
Desligo a TV, vou fazer café. Tudo fácil: água jorrando da torneira, geladeira abastecida, pão com manteiga na mesa, apenas o ruído dos carros e ônibus de um dia normal no Brasil. Mas é inútil: na internet, na TV, os tristes olhos da menina de Al-Hillah continuam a me encarar, cheios de indagações.
Fonte: O Tempo


Escritor e colunista de O TEMPO