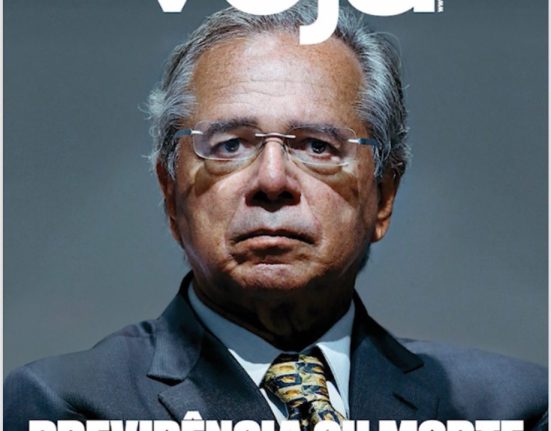Christopher Lasch, em The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, de 1995, sustenta a tese de que sempre existiu uma classe mais privilegiada, mesmo na democrática América, mas que ela jamais foi tão isolada de seu entorno. Riqueza, antigamente, era sinônimo de obrigações cívicas, e livrarias, museus, parques, universidades, hospitais e outras coisas importantes fizeram parte do legado de filantropos genuinamente preocupados com seus semelhantes.
Lasch não nega o lado do interesse próprio nessa generosidade, como a propaganda do status do rico, ou o objetivo de fomentar sua cidade para atrair investidores e negócios contra seus rivais. O importante, porém, era que tal filantropia implicava as elites nas vidas de seus vizinhos e das gerações vindouras. Essa responsabilidade cívica, segundo ele, perdeu-se ou foi bastante reduzida.
A globalização e os mercados cada vez mais móveis explicam parte do fenômeno, diz o autor. As novas elites são bem mais flexíveis, cosmopolitas, adaptam-se a qualquer lugar e a simples disposição de se mudar num piscar de olhos é vista como uma necessidade para o avanço na carreira muitas vezes. O sucesso é cada vez mais móvel. E essa elite não reclama, pois tende a enxergar seus vizinhos de cidades menores ou dos subúrbios como pessoas com a mente obtusa, com convenções ultrapassadas e crenças obsoletas.
Essa seria, então, a revolta das elites: contra a “América média”, o interior atrasado, repressor moralmente, reacionário politicamente, religioso. A classe média alienada, enfim, complacente, acomodada com sua vidinha mais pacata e limitada, na visão dessa elite. Seu patriotismo é visto com enorme desdém, enquanto o “multiculturalismo” acaba sendo endossado.
Cozinha exótica, viagens exóticas, música exótica, e costumes exóticos que podem ser apreciados como turismo, eis o que atrai essa elite, que não cria laços profundos ou compromissos com sua vizinhança. É, de fato, o ponto de vista turístico do mundo, que não tende a encorajar muito uma devoção apaixonada pela democracia local.
A “democracia” que essa elite costuma valorizar é aquela da “autoestima”. Ela enxerga apenas “minorias”, e o respeito a tais “minorias” não se deve mais às suas conquistas efetivas, e sim por conta de seus sofrimentos no passado. Políticas assistencialistas acabam defendidas em nome dessas “minorias”, o que enche a elite de orgulho próprio, como alguém que expõe seu mascote para “provar” sua bondade.
Mas a democracia funciona melhor quando os indivíduos são responsáveis, quando homens e mulheres fazem as coisas por conta própria, com a ajuda de seus vizinhos e amigos, não quando dependem do estado. Comunidades focadas no autogoverno são, para Lasch, o pilar básico de uma sociedade democrática. E ele está convencido de que o shopping center suburbano não é um substituto bom para as vizinhanças, para os encontros comunitários de antes.
As vizinhanças de classe média que sustentavam a cultura cívica estão desaparecendo, alertava o autor há 20 anos. Mais do que isso: as cidades estão totalmente polarizadas. A democracia requer uma troca vigorosa de opiniões e ideias, diz, e quanto mais difundidas elas forem, melhor. Mas os debates democráticos deram lugar a gritos que impedem a voz da razão de ser ouvida.
Ele escreveu antes do advento do Facebook, mas não sei se a rede social mudaria muito sua opinião. Vemos talvez uma polarização ainda maior e pouco espaço para debates verdadeiros. Pouco provável que o Facebook seja um bom substituto para os cafés e igrejas em que os vizinhos trocavam ideias e debatiam sobre política cara a cara, em âmbito local.
Sem as trocas de ideias em debates genuínos, o povo perde o incentivo de dominar o conhecimento que o faria capaz de se tornar cidadão de fato. Os “intelectuais” pós-modernos não ajudaram em nada ao confundir conhecimento com ideologia, como se qualquer opinião fosse apenas o reflexo de ideias pré-concebidas e, portanto, igualmente válidas (ou inválidas). Se assim fosse, então o debate perderia o sentido, e realmente teríamos apenas gritos, pois quem gritar mais alto, leva.
Todas as opiniões e valores clássicos e tradicionais acabaram sendo vistos, como consequência disso, como suspeitos, como instrumentos de uma sociedade eurocêntrica, racista, sexista e homofóbica. A elite, ela mesma em boa parte formada por homens brancos ocidentais, acaba acusando o golpe e se sentindo culpada. Passa, então, a incorporar a mesma linguagem condenatória, tentando expiar o “pecado” de ser elite e pedindo desculpas por erros que não cometeu.
Tudo passa a ser defendido em nome da “diversidade”, ela mesma um novo dogma intolerante e seletivo. As “minorias” rivais buscam refúgio atrás desse conceito, cada grupo tentando criar barricadas com seus próprios dogmas. A América virou, segundo Lasch, uma “nação de minorias”. Cada grupo desses se fecha para o debate aberto, para a possibilidade de um conhecimento universal e objetivo.
O negro que se destaca no “sistema” e se torna parte da elite é acusado pelos demais de “pensar como branco”, por exemplo. Por quanto tempo mais pode o espírito de livre investigação e debate aberto sobreviver sob estas condições?, pergunta Lasch. É uma boa pergunta.
Nos espaços comunitários de antes todos tinham de conviver de igual para igual. Pensemos numa igreja, no serviço militar: o filho da elite e o filho do povão estão juntos, como iguais do ponto de vista cívico. A América sempre buscou igualdade nos direitos e deveres cívicos, não na conta bancária.
Em Israel, alguns autores apontam a importância dessa aproximação de todos, independentemente da classe social, para o sucesso da nação. A necessidade de autodefesa comum talvez ajude. Nos Estados Unidos, as Forças Militares são cada vez mais profissionais, e raramente os filhos da elite vão conviver lá, em condições de igualdade com os demais na busca de um objetivo comum. Há um gradual distanciamento.
Ortega y Gasset falou da “rebelião das massas”, dos seres vulgares que, como boias à deriva, não assumem a responsabilidade por suas vidas, mas se descobrem em maior quantidade e reclamam o “direito” à própria vulgaridade e aos seus impulsos. São os “senhorzinhos satisfeitos”, como crianças mimadas, que olham as conquistas liberais e simplesmente se julgam no direito de tomá-las como garantidas para si.
A nobreza, por outro lado, impunha um fardo, naqueles que dão mais peso aos seus deveres do que aos seus direitos. Mas a postura das massas, segundo Lasch, tornou-se agora a das elites. São os “libertadores” das massas que se dizem revolucionários hoje, enquanto o povo demonstra ser mais conservador. São as elites que não querem mais saber de limites, de deveres, do fardo de liderar e assumir as responsabilidades históricas necessárias para a manutenção da democracia liberal.
Os “liberais” humanitários se mostram petulantes, intolerantes e arrogantes diante de qualquer oposição. Eles são os “ungidos”, para usar termo de Thomas Sowell. As novas elites, no fundo, são inseguras. Os “progressistas” olham com desprezo para o povo conservador da classe média. Os valores da antiga nobreza, como cavalheirismo, heroísmo, honra e patriotismo, também são vistos como ridículos.
A elite moderna se vê como autossuficiente e sem dever nada, nenhum de seus privilégios, a ninguém. Sem gratidão, essas elites não se veem na posição de liderar, recusando esse fardo em troca do hedonismo, do “aqui e agora”. Querem apenas se distanciar dos demais, fugir do povo, viver enclausuradas em suas bolhas. São elites “descoladas”, sem vínculo com o povo, com a nação, com qualquer coisa.
Os “liberais” acham que a democracia pode dispensar a virtude cívica, que basta ter as instituições adequadas que o caráter dos cidadãos não fará diferença. Lasch discorda. Para ele, a sobrevivência da democracia depende de mais do que auto-interesse, “mente aberta” e “tolerância”. Ele acredita que a democracia de hoje está mais ameaçada pela indiferença do que pela intolerância ou a superstição.
Essa era a visão dos principais “pais fundadores” da América também. George Washington pensava que a virtude e a moralidade eram necessárias para um governo popular. Benjamin Franklin dizia que só um povo virtuoso era capaz de ser livre, e que leis sem moral eram inúteis. Thomas Jefferson sabia que cada membro da sociedade tinha responsabilidade pessoal e moral por ela. E John Adams, por fim, foi talvez o maior defensor da inseparabilidade entre moral e liberdade. Para ele, a República não tinha como sobreviver sem indivíduos morais.
Hoje em dia, todos, principalmente as elites, parecem mais ocupados defendendo seus “direitos” do que lembrando de seus deveres cívicos, de suas responsabilidades morais como cidadãos. Poucos querem debater de verdade, com medo de “ofender” alguém. “Respeitamos” todos, mas esquecemos que o respeito precisa ser conquistado. Respeito genuíno sentimos diante de conquistas admiráveis, de gente com caráter sólido testado em dificuldades, com talentos naturais colocados em bom uso. Vem como resultado de um julgamento discriminatório, tudo aquilo que as elites atuais querem evitar. Ou seja, primeiro se julga as atitudes, depois cria-se o respeito. Hoje está tudo invertido.
Muitos liberais, desde David Hume, acreditam que o próprio comércio livre vai suavizar os costumes e fortalecer as virtudes individuais. Mas trata-se de uma esperança ingênua depositar a sobrevivência da democracia nisso. O amigo de Hume, Adam Smith, não caiu nessa. O egoísmo era para ele uma virtude apenas no contexto das trocas comerciais, não no restante. Ele não defenderia que todos os aspectos da vida em sociedade fossem definidos com base nas leis do mercado.
Smith também lamentou a perda da virtude cívica como resultado da prosperidade pacífica, pois um homem sem a capacidade de se defender ou se vingar perde força de caráter. Ele achava que o sucesso do livre comércio poderia resultar em pessoas pouco preparadas para o perigo, para suportar o trabalho duro, a fome e a dor. Ou seja, seriam como almas sensíveis e delicadas demais para encarar ameaças mortais ou dificuldades reais, colocando a própria liberdade em risco diante de inimigos perigosos.
Quando vemos Obama, ícone dessa elite moderna, agindo de forma pusilânime diante de regimes como o iraniano e o russo, quando observamos as pautas dessas elites voltadas para questões como “aquecimento global”, aborto, consumo de drogas e “poliamor”, fica difícil ignorar completamente os alertas pessimistas de Lasch, colocando a própria democracia americana em risco de vida, ou transformando-se em algo como o existente no Terceiro Mundo.
As elites se fecharam em seu próprio mundinho encantado, cortaram o elo com o povo e suas reais preocupações, e agem como crianças mimadas, como os “senhorzinhos satisfeitos” de Ortega y Gasset. Mas quando quem deveria liderar e assumir o fardo da responsabilidade cívica faz isso, como alimentar muitas esperanças? Ou a elite volta a ser elite, ou a democracia, de fato, poderá desaparecer como a conhecemos.
Rodrigo Constantino
A revolta das elites
- Por bruno
- 12 de fevereiro de 2016
- 0 Comentários
- 10 minutes read